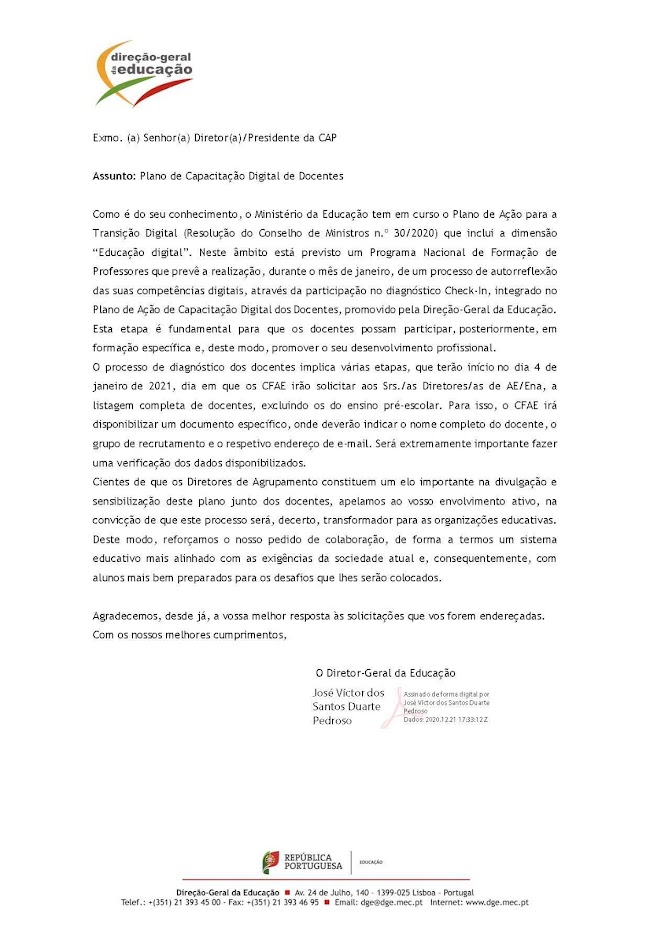Paulo Prudêncio
Sentir a injustiça na pele é muito pedagógico. Aliás, seria uma forma da acabar com a patologia silenciosa que destrói o clima relacional na administração pública — com um pico inquestionável no exercício dos professores — e que nem a pandemia atenuou.
Os chefes de Governo dos 27 países da União Europeia têm seis índices remuneratórios. Posicionam-se no primeiro no início de funções. Progridem anualmente. A avaliação, numa pontuação de um a dez, é da responsabilidade da presidente da Comissão assessorada pela presidência temporária. São avaliados por um relatório de auto-avaliação. A nota final é a média de 80 indicadores.
Estaria tudo tranquilo se imperasse o faz de conta. Mas não. Este sistema, imaginado para os países laboratório das políticas extractivas de gestão pública, estabelece cotas e vagas que já provocaram, tal a impossibilidade de se ser minimamente rigoroso, demissões, cisões e crises frugais; até ameaças de “não-bazuca”, como foi o caso dos chefes autoritários da Hungria e da Polónia. O último facto requereu a intervenção negocial da próxima presidência temporária: prometeu-se, a Orbán e a Morawiecki, dois dos três permitidos excelentes se usarem mais o Power Point (indicador 73) nas reuniões que chefiam; asseguraram-lhes a possibilidade de serem reeleitos por um conselho representativo da sociedade em detrimento do sufrágio directo e universal.
A aplicação desta avaliação burocrática e kafkiana também tem sido polémica no Governo português. A saída do célebre ministro das Finanças deveu-se à obtenção de apenas um excelente nos quatro anos de exercício (e perdeu três anos de progressão salarial). Mas não foi somente por causa disso. O ex-ministro prefere a civilizada avaliação no Banco de Portugal (BdP) que se inspira nas empresas que são casos de estudo e nos países inclusivos e avançados. Ou seja, avaliam-se, modernamente, as organizações — uma solução cooperativa que promove a concorrência, o mérito e a desburocratização —, e não existem cotas e vagas na avaliação dos profissionais. Para além disso, no BdP não há a tradição extractiva, a exemplo do que também observou em países europeus, de tornar muito ricos os colaboradores partidários que recebem, sem qualquer competição, lugares em conselhos de administração de empresas públicas ou contractos lucrativos também sem concorrência.
Como decerto se percebeu, o que escrevi é ficção. É pena. Porque sentir a injustiça na pele é muito pedagógico. Aliás, seria uma forma da acabar com a patologia silenciosa que destrói o clima relacional na administração pública — com um pico inquestionável no exercício dos professores — e que nem a pandemia atenuou. Afinal, e para o pensamento mainstream, o que nos consome é só mais uma máscara. O que é certo, é que esta avaliação do desempenho criou uma legião de pessoas cheias de ressentimento e em revolta contida; e é um vórtice a que poucos escapam, com ênfase caricatural quando os avaliadores proselitistas passam a avaliados.
E este ressentimento contribui para a falta de professores e para o crescimento do autoritarismo. Cria, naturalmente, uma onda de contágios que sai das bolhas do sistema escolar e da administração pública. No primeiro caso, basta associá-lo ao modelo extractivo de gestão das escolas e à infernal burocracia. É uma trilogia que retira atractividade à carreira de professor. Prevalece o sentimento de “fuga”. Por outro lado, e no segundo caso, uma sociedade com esta doença de exclusão enerva e zanga as pessoas. Deixa-as disponíveis para os discursos que prometem uma única narrativa — e o sossego com a ausência de ruído e de contraditório — e favorece a abstenção ou o voto dos descontentes nas forças autoritárias que meterão a sociedade nos eixos. É outra doença pandémica. É um fenómeno que se agravará com a falta de professores, com particular saliência para os formados em Humanidades.
Os homens deviam aprender com a história. É mais surpreendente quando nem sequer o fazem com as tragédias recentes. Anne Applebaum (2020), em O crepúsculo da democracia, cita Hannah Arendt (:33) com uma referência ao que se passava em 1940: “O pior tipo de Estado é o que ‘substitui invariavelmente todos os melhores talentos, independente das suas simpatias, por excêntricos e imbecis cuja falta de inteligência e criatividade é, ainda assim, a melhor garantia da sua lealdade’.” A autora recorda (:31) que “Democracia, Monarquia, Tirania e Oligarquia eram modos de organizar a sociedade, familiares a Aristóteles e Platão há mais de dois mil anos”.
Chegados aqui, cabe aos restantes 25 países perceberem o que é preciso fazer para que o autoritarismo não tome o poder. Dá ideia que será na soma de muitas pequenas coisas que se encontrará o fio à meada. Há alguns que já o fazem com determinação. Impõem cordões sanitários em defesa da democracia. Compreende-se: sentiram na pele os efeitos devastadores das guerras do século XX. Acima de tudo, espera-se que não seja necessário sentir na pele, como já acontece a inúmeros húngaros e polacos, para se perceber como foi errado insistir em políticas exclusivas.
E os comportamentos na pandemia das tribos dos governos e das oposições, explicam o quão nefasta e perigosa é a clubite aguda, em Portugal também, dentro das forças democráticas: ora se repete o insensível “corre tudo bem” no meio de mortes, falências e desemprego ou se procura o “corre tudo mal” no mar das impossibilidades. Corre muito bem na ciência e na coesão europeia, que são duas consistentes janelas de esperança, e isso já se sente na pele como lições para os locais onde se combate, sem cedências, o autoritarismo: o mundo das realizações e o universo das ideias.